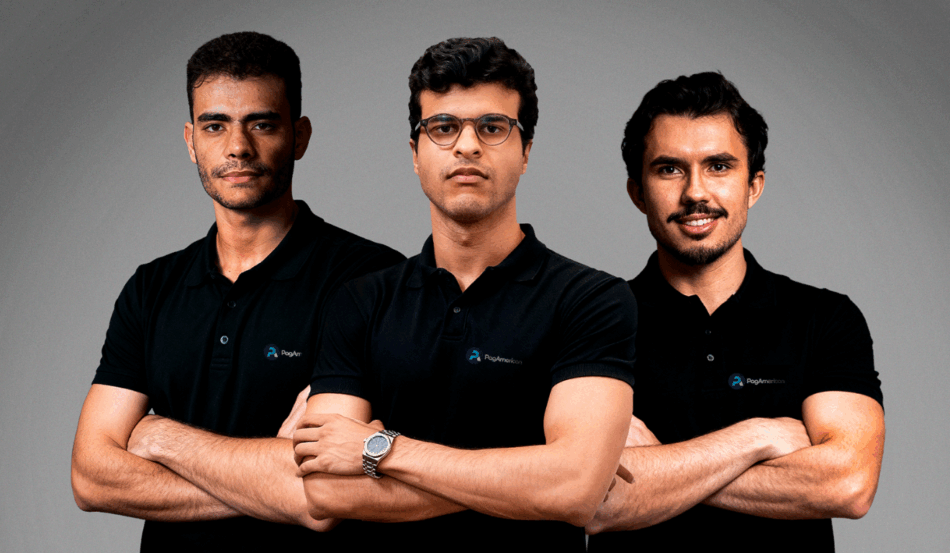Durante anos, as fintechs brasileiras operaram sob o signo da inovação, com menos peso regulatório, mais tolerância a experimentações e uma narrativa quase consensual de que qualquer freio poderia matar o crescimento. Nesses primeiros anos, essas startups eram tratadas como experimentais, em um contexto no qual erros eram relativizados em nome da disrupção. Mas esse período “café com leite” chegou ao fim. Em um mercado em que muitas fintechs já têm escala, impacto sistêmico e milhões de clientes, elas passam a ser tratadas como parte central do sistema financeiro.
O caso envolvendo o Will Bank reacendeu o debate sobre riscos, supervisão e responsabilidade no sistema financeiro brasileiro. O episódio trouxe novamente à tona discussões sobre supervisão prudencial, transparência e a necessidade de respostas mais rápidas do regulador para evitar um possível efeito dominó em outras empresas do setor. Também evidenciou um ruído recorrente no debate público: a associação automática entre episódios de crise e o modelo fintech.
Entendendo as nomenclaturas
No Brasil, o termo “fintech” não corresponde a uma categoria regulatória formal prevista em lei ou nas normas do Banco Central. Trata-se de uma designação informal, usada para descrever empresas que utilizam tecnologia de forma intensiva na oferta de serviços financeiros. Do ponto de vista regulatório, o que existe são autorizações específicas para o exercício de diferentes atividades, como instituições de pagamento (IPs), sociedades de crédito direto (SCDs), sociedades de empréstimo entre pessoas (SEPs) e instituições financeiras tradicionais.
Na prática, muitas empresas classificadas como fintechs operam sob modelos híbridos, combinando estruturas típicas de empresas de tecnologia com autorizações que permitem captação de recursos, emissão de CDBs e uso do dinheiro dos clientes em operações próprias – regimes semelhantes aos adotados por bancos e financeiras.
O Will Bank se enquadra nesse segundo grupo. Constituído como financeira, o banco digital emitia CDBs cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que significa que os recursos dos clientes não estavam integralmente segregados. Com a liquidação, esses valores passaram a integrar o processo de insolvência da instituição, com proteção limitada a R$ 250 mil por CPF, conforme as regras do fundo.
Esse modelo difere das instituições de pagamento puras, nas quais os recursos dos clientes permanecem segregados em contas de reserva vinculadas ao Banco Central, fora da massa falida da empresa, conforme previsto na legislação. Nessas estruturas, o dinheiro não pode ser utilizado pela instituição e tende a ser devolvido integralmente aos clientes mesmo em cenários de intervenção ou insolvência.
O caso do Will Bank expõe um problema recorrente no debate público: o uso genérico do termo “fintech” para realidades regulatórias diferentes. “Essa distinção é fundamental para analisar e debater o tema”, afirma Diego Perez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs).
Para ele, determinadas fintechs podem ser mais seguras do que bancos tradicionais, especialmente no caso de instituições de pagamento que não concedem crédito nem utilizam os recursos dos clientes em operações próprias, mantendo esses valores segregados, fora do balanço da empresa. “Se tiver um evento de liquidação extrajudicial e uma intervenção do Banco Central, 100% do recurso do cliente está protegido. O medo não deveria ser de tirar dinheiro das fintechs e deixar no banco, e sim o contrário: tirar dinheiro do banco e deixar nas fintechs”, afirma.
Essa avaliação, no entanto, depende do modelo de operação adotado por cada instituição e não se aplica de forma homogênea ao universo das fintechs. O risco assumido pelo cliente, portanto, varia de acordo com o modelo de operação e com o uso – ou não – dos recursos depositados.
Embora os procedimentos conduzidos pelo Banco Central sejam eficazes, a ausência de um mecanismo simples, padronizado e amplamente conhecido como o FGC ajuda a explicar por que a percepção de segurança ainda varia entre diferentes tipos de instituições – e por que episódios como o do Will Bank seguem alimentando um debate muitas vezes simplificado sobre riscos no sistema financeiro.
O Fundo Garantidor de Créditos opera como um mecanismo extrajudicial já consolidado, construído a partir de sucessivos episódios de quebra de bancos e financeiras. Ele conta com processos padronizados que permitem ao cliente solicitar o reembolso diretamente e receber o valor dentro do limite estabelecido.
No caso das fintechs que atuam como instituições de pagamento, não existe um mecanismo equivalente ao FGC. Isso, porém, não significa ausência de proteção ou incapacidade operacional do regulador. Diego explica que o Banco Central dispõe de sistemas e procedimentos internos para viabilizar a devolução dos recursos aos clientes. “O BC tem capacidade técnica para isso, não na mesma intensidade do FGC, mas igualmente eficiente. O Banco Central já demonstrou isso recentemente com sistemas como o de valores a receber, que permitem identificar contas e saldos em diferentes instituições”, diz.
E quando a fintech opera via Banking-as-a-Service?
Uma camada adicional de complexidade surge nos casos em que a fintech não possui licença própria e opera por meio de um modelo de Banking-as-a-Service (BaaS), no qual os serviços financeiros são prestados a partir da infraestrutura e das autorizações regulatórias de um terceiro. Nesses arranjos, a pergunta central passa a ser: quem responde pelo dinheiro do cliente em caso de falha – a fintech, o provedor de BaaS ou a instituição licenciada junto ao Banco Central?
Atualmente, a regulação brasileira exige que essa responsabilidade esteja clara para o consumidor desde o momento da contratação. As regras mais recentes determinam que o cliente deve saber, ao longo de toda a relação, quem é o agente regulado responsável pela gestão dos recursos e qual mecanismo de proteção se aplica em caso de necessidade de recuperação ou resgate do dinheiro.
Na prática, o modelo de proteção segue a licença associada à operação específica. Se o serviço for prestado sob uma autorização de instituição de pagamento, os recursos do cliente permanecem segregados e fora do balanço da empresa, protegidos por regra patrimonial. Se envolver uma licença bancária ou financeira, como emissão de CDBs, o mecanismo aplicável passa a ser o Fundo Garantidor de Créditos, dentro dos limites previstos.
Diego explica que quando a fintech que contratou o BaaS é a empresa que entra em processo de encerramento, a responsabilidade pelo manuseio e pela disponibilidade dos recursos do cliente recai sobre o prestador de BaaS. Isso vale independentemente do motivo que levou à interrupção da operação, seja por ingerência da própria fintech ou por fatores externos. Como apenas entidades reguladas passam por processos formais de liquidação, se a fintech não possui autorização do Banco Central, quem responde regulatoriamente é o BaaS, e não a marca que se relacionava com o consumidor.
Nesse cenário, se a fintech deixa de existir, é o prestador de BaaS que deve ser acionado pelo cliente. Prestadores desse tipo costumam operar com um conjunto de autorizações regulatórias, e não com uma única licença. Por isso, em situações de crise, a análise não recai sobre o rótulo da fintech, mas sobre qual atividade falhou e sob qual autorização ela estava sendo executada. A dinâmica de proteção, nesses casos, segue a mesma lógica já prevista no sistema financeiro: operações bancárias ficam sob o FGC; operações de pagamento ou crédito digital seguem o regime de segregação patrimonial.
Bancos também erram
A associação automática entre bancos tradicionais e segurança ignora episódios recentes da história do sistema financeiro brasileiro. Instituições consolidadas como Bamerindus, Banco Cruzeiro do Sul e PanAmericano enfrentaram crises graves, intervenções e quebras que afetaram diretamente clientes e investidores.
Nesses casos, o que evitou perdas ainda maiores não foi o “status de banco”, mas a existência de mecanismos regulatórios e de proteção, como o FGC. A experiência mostra que o risco não está no formato institucional em si, mas na forma como cada operação é estruturada, supervisionada e protegida dentro do arcabouço regulatório.
Esses episódios ajudam a contextualizar o debate atual sobre fintechs. Assim como bancos tradicionais podem falhar, empresas de tecnologia financeira operam sob diferentes licenças, níveis de exposição ao risco e mecanismos de proteção ao consumidor. Generalizações, de um lado ou de outro, tendem a distorcer a leitura sobre segurança no sistema financeiro.
Para Marcello Gonçalves, sócio e fundador da gestora DOMO.VC, muitos dos casos associados a “fintechs problemáticas” envolvem, na prática, estruturas criadas para explorar brechas regulatórias, sem governança, supervisão ou controles adequados. “O problema nunca foi o modelo fintech. Foi governança, capitalização e supervisão. Se você vai trabalhar com dinheiro de terceiros, precisa oferecer garantias reais de proteção ao consumidor.”
Na mesma linha, ele avalia que o discurso de maior segurança adotado por bancos tradicionais após episódios recentes é legítimo quando se trata de proteção ao sistema e ao cliente, especialmente no contexto do Fundo Garantidor de Créditos. Ao mesmo tempo, ressalta que nenhum modelo está imune a falhas – e que os casos recentes expõem fragilidades distribuídas ao longo de todo o sistema financeiro.
O Startups procurou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para comentar o tema, mas a entidade optou por não se pronunciar.
Em nota divulgada em dezembro de 2025, após a liquidação do Banco Master, a Febraban reconheceu que, mesmo sob supervisão, algumas instituições financeiras podem enfrentar problemas de solvência que, a depender da gravidade, inviabilizam a continuidade de suas operações.
“A atividade financeira é um negócio de elevado risco”, disse a entidade. “Nessas situações, o regulador tem o mandato legal e o dever inafastável de agir em prol da resiliência, estruturando regimes de resolução para proteger o sistema financeiro e minimizar o risco de contágio sistêmico. Adicionalmente, garantir a credibilidade das instituições financeiras e dos reguladores é vital para um bom funcionamento do sistema financeiro. Sem essa credibilidade, não há como uma instituição financeira perpetuar seu funcionamento.
Amadurecimento
Na avaliação de investidores do ecossistema, episódios recentes envolvendo instituições financeiras e estruturas de investimento reforçaram uma mudança de mentalidade no mercado. O debate deixou de girar apenas em torno de liberdade, inovação e descentralização e passou a incorporar, de forma mais explícita, os riscos de um ambiente pouco regulado, especialmente quando o próprio ecossistema se torna vítima dessas falhas.
Marcello acredita que crises funcionam como catalisadores desse processo. “O mercado brasileiro vai sendo regulado motivado por evolução, inovação e crise. O fraudador está sempre procurando uma janela, e esses episódios fazem o ecossistema entender os perigos da não regulação”, afirma.
Segundo ele, o avanço regulatório não é incompatível com crescimento, uma vez que há diversos exemplos de fintechs que escalaram rapidamente no Brasil operando dentro das regras. O Nubank é o exemplo mais evidente desse movimento.
Na leitura de Marcello, casos como o do Banco Master evidenciam tanto falhas específicas de gestão quanto lacunas mais amplas de supervisão. De um lado, decisões que contrariaram princípios básicos do sistema bancário, como captar volumes muito acima da capacidade de aplicação dos recursos. De outro, o uso de estruturas sofisticadas, como fundos sobre fundos e veículos com pouco lastro, que ampliaram o risco e dificultaram a detecção antecipada dos problemas.
“Tal como em 2008, quando o mundo passou a questionar a desregulamentação excessiva do mercado imobiliário nos Estados Unidos, esse tipo de crise mais aguda faz todo mundo parar e refletir sobre a necessidade de regras mais claras e mecanismos de controle mais robustos”, observa o investidor.
Para o sócio da DOMO.VC, o momento atual deve ser lido menos como uma crise estrutural e mais como parte de um processo contínuo de amadurecimento. “O mercado financeiro brasileiro é um dos mais sofisticados do mundo e segue evoluindo. A regulação faz parte disso. Não é um freio à inovação, é um componente essencial para que ela seja sustentável”, conclui.